

O feminismo entrou de vez na minha vida junto com o nascimento do meu filho. Foi a maternidade que me mostrou o quanto eu precisava ser feminista. A partir daquele momento, comecei a me dar conta de que as cobranças em relação à mãe eram imensamente maiores que aquelas dirigidas aos pais. Percebi que as violências obstétricas que sofri e que acabaram culminando em uma cesárea indesejada eram frutos de um sistema misógino e machista que viola os direitos reprodutivos femininos. Passei a me incomodar com a reação diante do meu corpo despido que amamenta em público, olhares que violam, comentários que julgam, conselhos que passam por cima da minha autonomia sobre meu corpo.
Ora, diante do quadro que a maternidade se apresentou a mim, como não me declarar feminista? Como não lutar pela autonomia do meu corpo? Autonomia esta que deveria me garantir se quero engravidar, se quero manter a gestação, se quero parir, onde e como quero parir, se quero amamentar, onde quero e por qual período.
E foi há pouco tempo que passei a perceber que esse encontro – que para mim, parecia tão óbvio – é, na verdade, bastante conflituoso. De um lado, argumentos defendem que a maternidade aprisiona as mulheres e, de outro, que o feminismo tangencia o cuidado com as crianças. E tenho me debruçado desde então sobre estas questões e achado que, embora haja muita confusão aí, nenhuma das premissas está totalmente errada.
É inegável que a maternidade, de certa forma, nos limita. Criar filhos dispensa tempo, dinheiro, disposição, cuidados. E, ainda, quando existe um comprometimento real pelo bem-estar afetivo e emocional da criança, a criação dos filhos não é nada fácil. Alia-se a isso ao fato de que a sociedade patriarcal impinge a responsabilidade exclusiva das mulheres tanto à maternagem como às atividades domésticas e, assim, temos uma legião de pessoas que, de fato, está presa a estas condições que lhe são previamente impostas.
Quantas estudantes param de estudar após a gravidez? Quantas trabalhadoras abandonam a carreira em prol dos cuidados com os filhos? Quantas militantes suspendem lutas por não haver acolhimento à criança em suas bases? Quantas mulheres abandonam sonhos pela maternidade?¹ E quantos pais fazem isso? É evidente que a carga é muito mais pesada para elas do que para eles:
“Desde Durkheim, sabe-se que o casamento prejudica as mulheres e beneficia os homens. Um século depois, a afirmação deve ser entendida em suas nuances, mas a injustiça doméstica permanece: a vida conjugal sempre teve custo social e cultural para as mulheres, tanto no que diz respeito à divisão das tarefas domésticas e à educação dos filhos, quanto à evolução da carreira profissional e à remuneração. Hoje, não foi propriamente o casamento que perdeu o caráter de necessidade, mas é a vida matrimonial e, sobretudo, o nascimento do filho que pesam sobre as mulheres²”.
Importante pontuar que a trajetória que o movimento feminista percorreu, até que se disseminasse a ideia de que a maternidade é um obstáculo à libertação feminina, justifica esse conflito. A luta das mulheres sempre esteve vinculada à dicotomia público x privado: “O feminismo se definiu pela construção de uma crítica que vincula a submissão da mulher na esfera doméstica à sua exclusão da esfera pública”³.
É nos anos 60 que se inicia a segunda onda feminista⁴, em que mulheres – grande parte influenciadas por Simone de Beauvoir – não satisfeitas com a igualdade formal antes conquistada, passam a lutar também pela igualdade material. Apesar da igualdade garantida em lei, as mulheres ainda pertenciam de fato aos seus maridos, visto que dependiam economicamente deles.
O caminho para a equidade seria, então, a conquista do espaço público. O trabalho remunerado foi o meio encontrado para se alcançar a efetiva liberação das mulheres⁵. No entanto, o cuidado com a casa e com os filhos se mostrou como um entrave para estas conquistas e acabou por triplicar a jornada da mulher.
À medida que historicamente a mulher vai conquistando a igualdade formal perante o homem, a ideia de mulher maternal vai novamente ganhando força. O mito do instinto materno, que sugere que todas as mulheres têm capacidade e vontade inata para a maternidade, cresce conforme as conquistas feministas se apresentam. Controlar as mulheres inculcando-as a ideia de que são rainhas do lar e as melhores cuidadoras para os filhos com o intuito de que se abstenham de conquistar o espaço público é um grande trunfo do patriarcado.
Analisando períodos históricos, constata-se que a relação direta da mulher com a maternidade nem sempre foi tão forte. Inclusive, desde o século XIII, era muito comum que bebês de famílias aristocratas fossem enviados para os cuidados de amas de leite. A função da mulher na aristocracia era a da procriação, para manutenção do nome e dos bens de família, e de cumprir obrigações sociais, tais como participar de eventos da alta sociedade.
O costume de não ficar com seus bebês entregando-os às amas de leite popularizou-se entre a burguesia no século XVIII. E era símbolo de status social não se preocupar com questões maternas.
Ocorre que esse desprendimento em relação à maternidade foi muito prejudicial às crianças. Elisabeth Badinter afirma que na sociedade francesa do século XVIII “a mortalidade das crianças com menos de 1 ano era visivelmente superior a 25%, e aproximadamente uma em cada duas crianças não chegava aos 10 anos”.
Portanto, o modelo ideal de maternidade é moldado de acordo com as ambições da sociedade da qual faz parte e quase nunca está relacionado com a preocupação real com o bem-estar da criança. Por isso, almejar ser uma mãe ideal ou mesmo uma boa mãe é uma grande armadilha, visto que foca-se na mulher e se esquece de pensar nas verdadeiras demandas da criança.
A presunção de que nascemos prontas para sermos mães é uma das responsáveis pelo sentimento de culpa que assola a maioria das mulheres, porque não se sentir dotada dessa capacidade inata acaba por minar a confiança das mães perante seus bebês. O instinto materno não existe, tanto é verdade que psicanalistas do mundo todo comprovam que a infância é uma fase traumática, muito por conta da negligência na criação. Se realmente ser mãe fosse um dom inato, erros seriam exceções e toda criança seria bem cuidada e respeitada. Contudo, o exercício de maternar nada mais é do que um aprendizado de alteridade, recheado de erros e acertos.
E foi com a certeza de que o destino final de toda mulher não se encerra necessariamente na maternidade, que as feministas representantes da segunda onda encaram os filhos como obstáculos à liberação da mulher, em que a maternidade é vista como uma forma de servidão. E deste discurso nasce o conflito entre maternidade e feminismo. Mas precisar ser assim?
Esvaziando o papel de mãe
O cuidado com os filhos e com a casa são os únicos espaços sociais nos quais a mulher é recebida como soberana, criando a falsa sensação de valorização social. Negar este papel pode significar também assumir espaços onde há histórica dominação masculina e, consequentemente, desvalorização da presença feminina. Ou seja, às vezes pode parecer mais cômodo e gratificante assumir um papel onde a mulher reina soberana do que galgar espaço onde se é vista como indivíduo de segunda classe.
Em vista dessa dificuldade, muitas mulheres almejam a maternidade e com ela o título de boa mãe. No entanto, a conquista do espaço público e a maternidade não deveriam ser questões em disputa. Se não houvesse exclusividade no cuidado, ninguém seria coagido a ter que optar entre elas.
Além disso, as características que contemplam a suposta boa mãe (castidade, paciência, abnegação, submissão, passividade) são atributos esperados pela sociedade patriarcal até para aquelas que não são mães, definindo assim a chamada mulher maternal. Ocorre que não é verdade que a presença ou ausência destes requisitos interfira na qualidade da maternagem. Não se pode admitir que um papel pré-fabricado sequestre a pessoa que somos. Não é tentando ser outra pessoa que a mulher se torna uma mãe que respeita seus filhos, pois tentar ser o que não se é, é antes de tudo uma violação consigo mesma. E respeito somente é dado quando se tem.
Ora, mulheres são diferentes entre si! Por que é então que toda mãe deveria ser igual? Por que temos que assumir um papel para cumprir uma expectativa social? Esvaziar o papel que se atribui à mãe é fundamental para se possa empreender o cuidado coletivo e assim, inserir novos atores e pluralidade no cuidado.
Em toda a nossa história, poucas são as civilizações que compartilham igualmente entre todos os cuidados com as crianças. Entre indígenas e tribos africanas é muito comum que as crianças sejam responsabilidade de todas as mulheres da aldeia. Essa divisão, ainda que não igualitária porque não costuma contar com homens, já torna o exercício da maternagem mais fácil e acolhedor do que a realidade atual, em que mães devem dar conta sozinhas, no melhor (ou seria pior?) estilo do “quem pariu Mateus que o embale”.
Porem, parto do princípio de que se o instinto materno é uma grande falácia, qualquer pessoa estaria apta para os cuidados com a criança. Sendo assim, primeiramente me ocorreu a urgência da necessidade de convocarmos o homem para ocupar o espaço privado. Ora, neste site, temos apenas cerca de 3% de homens leitores! É incontroverso o fato de que homens se eximem do cuidado e sobrecarregam as mulheres, independente da condição social que se encontram.
Contudo, após debater e refletir bastante sobre o assunto, acho que seria inócua essa convocação. Afinal, como quero que o homem assuma o espaço privado se tenho que pegar-lhe pela mão e introduzir no debate? Acredito que a forma mais efetiva de se pensar sobre cuidado seria começar a questionar os papéis de cuidadores. Até que ponto alguma tarefa precisa ser necessariamente da mãe? Qual a figura do pai da relação? E, indo mais além, essa relação precisa ser mesmo triangular?
Quando se coloca o debate sob esse ponto de vista, fica claro que estamos falando de relações heteronormativas, mas precisamos abarcar aqui também outras formas de cuidado. E é aí que entra a beleza das relações homoparentais ou mesmo onde o cuidado compartilhado é uma realidade. Porque nestas relações se torna muito mais fácil se introduzir a discussão acerca do esvaziamento de papéis. Ou seja, em que o vínculo necessário ao desenvolvimento infantil pode ser formado por qualquer pessoa independente do seu gênero.
Imperioso salientar que o bebê recém-nascido possui a necessidade fusional. É muito importante para o seu desenvolvimento que nos primeiros meses exista um cuidador principal disposto a integrar essa díade, e concordo que a melhor pessoa para ocupar esse espaço seja a mãe.
E isto não apenas por conta da importância da amamentação, mas porque o pós-parto prepara a mulher, através da produção de hormônios, para que exista uma pré-disposição para ocupar este lugar. Donald Winnicott chama esse estágio de “preocupação materna primária”⁷. No entanto, considerar o efeito dos hormônios sobre o corpo da mulher bem como o tempo de sua duração não significa respaldar o determinismo biológico que preconiza que somente a mãe biológica poderá integrar o processo fusional com o bebê.
Ainda, compor a díade mãe-bebê é algo tão intenso e avassalador que se torna indispensável contar com uma rede de apoio, sob pena de se desenvolver um baby-blues podendo evoluir até mesmo para uma depressão pós-parto.
Portanto, ainda que o cuidado não seja direto com o bebê, é necessário que haja alguém para cuidar da mãe e realizar as atividades domésticas e esse papel pode e deve ser desenvolvido pelo companheiro e pai da criança. Assim como por outra pessoa que tenha essa proximidade com a mãe, como por exemplo, sua companheira.
Ainda, para além dos cuidados nos primeiros meses, a fim de evitar a sobrecarga materna, é urgente a reivindicação pelo cuidado coletivo. Cuidar coletivamente é pensar a criança como uma responsabilidade social, promovendo condições para o seu desenvolvimento. E este desenvolvimento não se dá de maneira plena quando a responsabilidade é delegada exclusivamente a uma só pessoa.
Portanto, o cuidado coletivo pressupõe além da participação do homem no espaço privado, também ao acolhimento da criança no espaço público. E aqui não me limito apenas à figura do pai, e incluo também o avô, o irmão, o tio, o amigo. Somente com a participação ativa de TODOS nos cuidados com a criança é que se pode esperar uma mudança na esfera legislativa, corporativa e social. Enquanto os cuidados continuarem a ser delegados às mulheres, a maternidade continuará a aprisionar. Afinal quem consegue tempo e disposição para realizar seus anseios pessoais tendo que cuidar da casa e dos filhos sozinha?
A proteção à infância perpassa também o suporte dado a seus cuidadores. Portanto, não há como falar em cuidado coletivo sem mencionar a necessidade de uma legislação que assegure licenças parentais e que garanta aos cuidadores leis trabalhistas que permitam o exercício da maternagem ao mesmo tempo em que a carreira não seja prejudicada.
Porque quando só as mães podem gozar da licença (ainda que ínfima) e somente a elas recai a responsabilidade pelo cuidado, há uma evidente discriminação entre as funcionárias e funcionários. Essa polarização é também um dos motivos delas receberem remuneração inferior à deles e de terem mais dificuldade em crescer na carreira e, levando em conta esse cenário, são elas que preferem abandonar a profissão para se dedicar à criação dos filhos.
Além disso, entender a infância como um dos pilares mais essenciais da vida em sociedade é fomentar o debate quanto à responsabilidade que cada pessoa tem em relação aos filhos dos outros. Seja acolhendo a amiga que passa pelo puerpério, pensando se o horário e o local da festa são apropriados para os filhos dos amigos convidados, oferecendo um local para que a mãe possa amamentar, intervindo em caso de violência contra a criança, pensando em locais acolhedores para receber os filhos de mães estudantes e/ou militantes, olhando com empatia para aquela criança que chora no avião/mercado/fila/restaurante. Enfim, poderia listar uma série de situações cotidianas que excluem as crianças do espaço público e, assim consequentemente, seus cuidadores.
Por todo o exposto, que não consigo dissociar o feminismo da maternidade tampouco a maternidade do feminismo. Desconstruir o conceito iconoclasta da maternidade já é uma tarefa exaustivamente trabalhada por feministas. Agora é preciso, além disso, pensar também nas crianças, de modo a empreender o cuidado coletivo visando o bem estar delas e a felicidade de suas mães. É urgente revolucionar o cuidado!
E esta revolução será feminista.
Ou não será.


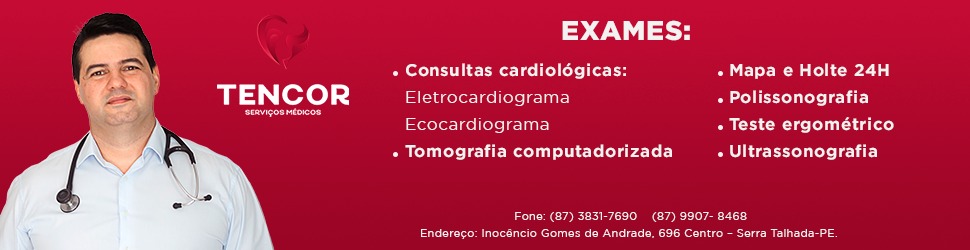
1 comentário em ‘É possível exercer uma maternidade que não nos aprisione’